|
|
Wednesday, April 30, 2003
|
[ 200222661 ]

Seu Jorge e Amarar, que jura não estar bêbado.
Seu Jorge e Nosso Macaquismo
Há um monte de lugares assim em Manhattan. Por fora, pão bolorento, por dentro, bela viola. Mais do que inverter o ditado, os prédios antigos, sem elevador e de escadaria imunda, escondem tesouros de bom gosto em seu interior.
E foi num desses lugares que tive o prazer de encontrar parte da turma do Cidade de Deus nesta segunda-feira. Substituíram as cochinhas e empadas por comida grega, a Antarctica por Stela Artois, os beijinhos no rosto por aperto de mão e montaram uma festinha no final da tarde, aquilo que nós, brasileiros, em bom português chamamos de “happy hour”. Mas no final, tudo acabou em samba.
Zé Galinha, um dos personagens do filme, é, pra minha novidade, o grande sambista Seu Jorge. De graça, deu um showzinho a parte pros gringos, que todo mundo acompanhou em batidas discretas de disritmado mocassim versus assoalho. No tamborim, Paulo Lins, que, como todo bom carioca, improvisa de músico quando a ocasião demanda. Durante 1 hora, ensaiaram uma performance e acabaram gravando um CD, ali mesmo, num espaçoso loft em Chelsea. Minutos depois podia-se ver Paulo Lins rindo à toa, encantado com sua performance. É a primeira vez que o autor do livro que deu origem ao filme vê seu hobby musical virar disco.
Antes, pra justificar o evento, Kátia Lund, co-diretora de Cidade de Deus, apresentou sua criação, dando show a parte e mostrando um curta que anda fazendo sucesso na Globo, que ela me contou ser agora minisérie por aí. Toda a brincadeira pra arrecadar fundos, arrancar dólar da matriz.
Seu Jorge, malandro carioca, caberia bem como relações públicas em qualquer grande empresa. Distribuia sorrisos e comentários, misturando num só parágrafo palavras em inglês, francês e português pra quem se aproximasse. Quando a coisa apertava e o olhar era de interrogação, não dispensava o uso das mãos e as mímicas faciais. E como resultado de tanta informalidade, no final da história todo mundo já se despedia com beijinhos no rosto, abraços apertados e um bye-bye final em forma de tapinhas nas costas.
Se tudo tivesse ocorrido no Brasil, provavelmente teria ido correr no Ibirapuera ou ficado no escritório até mais tarde. Mas como é em Nova York, ficamos encantados e comparecemos ao evento. Síndrome de macaquice tropical, que acha tudo lindo quando nossa obra é reconhecida aqui fora, sob a benção americana. Aí ela vira arte.
posted by
The guy behind a screen
@
10:01 AM
|
[ 200211225 ]

Michael Nyman e o sopro divino
Sexta-feira, fim de tarde. Início de primavera. Há novo humor em Manhattan. Dá pra se notar nas ruas, agora mais apinhada de gente. Aproveitei o sol tentador e nem precisei de desculpa pra sair mais cedo do escritório. Tudo só pra ficar flanando pela 5a Avenida, sem a mínima pressa. Parei e me detive em qualquer lugar que me interessasse. Folhei livros na Barnes & Nobles, chequei valises e cacarecos de viagem em uma loja de bolsas, experimentei cintos e acessórios na Armani. Também parei na vitrine da Tiffany, mas aqui não toquei em nada. Resvalei com os dedos sapatos da Keneth Cole no Rockfeller Center; flertei com a loja da Nike perto do Plaza Hotel, mas não entrei. Não comprei nada. Foi tudo pra “fazer hora”, já que tinha compromisso às 8:00, com Michael Nyman.
Nyman, pra quem não sabe, é o compositor inglês mais influente dos últimos 30 anos. Um revolucionário moderno, que segue a cartilha dos minimalistas. Junto com Philip Glass, seu equivalente em solo americano, forma a verdadeira “força da coalizão”, que fica melhor assim, substituindo Blair e Bush, trocando mísseis por fagotes.
A crítica gosta de comparar Nyman a Glass, que é um ídolo por aqui. Onde Glass toca, há uma multidão pronta pra assistir. Nyman já não é tão conhecido desse lado do Atlântico e faz mais sucesso em lugares exóticos como, digamos, São Paulo. Certa vez, há uns 10 anos atrás, fui assistir Nyman, em única apresentação, no teatro da Cultura Inglesa em Pinheiros. Um primor. Na época, foi reverenciado por toda crítica de Folha de São Paulo e turma do Caderno 2. Estava no auge. Junto com o diretor Peter Greenway, andava causando furor no mundo cinematográfico. Não se esqueçam que Nyman fez toda a trilha sonora dos filmes O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante; Prosperous´ book; Afogando em Números e mais alguns outros, como o bom O Piano, com Harvey Keitel e Holy Hunter no elenco. Ajudou também a catapultar a carreira do diretor francês Patrice Leconte, que produziu o sensível Mr. Hire, traduzido no Brasil como Um Homem Meio Esquisito. Tudo coisa do melhor nivel.
Agora Nyman anda por novos caminhos, checando novos sons e fazendo novas fusões. Antes do show, avisou que deixaria uma música ambiente, em estilo house, tocando como preliminar. Contou que não era nada por acaso. A música, um experimento que fez com um DJ inglês de um nome aí que não me lembro, é mais uma prova de que Nyman, junto com Glass, não são os primos elegantes da música eletrônica. São seus pais andróginos.
A história toda se deu no Ethical Cultural Society. O lugar, não tão conhecido, lembra uma desses teatros de cidade do interior no Brasil, antes de ser substituído por um teatro novo, em comum e repetido concreto aparente, quando a cidade começa a sofrer da “síndrome de metrópole”, uma doença frequente no interior do Estado de São Paulo. Mas aqui, sem os complexos de praxe, o velho é propositalmente mantido, e os bancos de madeira, em estilo religioso, davam o contraste que Jonathan Sheffer, o regente musical da Eos Orquestra, queria, pra apresentar Nyman ao público de Manhattan.
E então Nyman surgiu. Sua camisa branca com colarinho largo destacava-se embaixo de um despojado casaco, a meio caminho entre o blazer e o sobretudo. E os primeiros 25 minutos, onde Nyman mandou o bom e clássico Nyman, não decepcionaram. Fiquei sinceramente emocionado, em estado de torpor, com os olhos marejados e agradecendo a Deus por estar presenciando aquele momento. Tão impactante que não notei que depois disso passaram-se cinquenta minutos restantes sem grandes sobressaultos de performance, agora morna e despretensiosa. Àquela altura, porém, a noite já estava muito bem paga.
Ouvir Nyman necessariamente te remete a Philip Glass. É inevitável. Mas onde Glass parece estar sempre vendo o mundo em caos constante, pronto pra dar um último suspiro civilizatório, Nyman vê nascimento. Usa a mesma energia na qual Glass se inspira, mas de forma construtiva. Enquanto Glass solto todos os demônios na Terra, Nyman os recolhe um a um, dando lugar apenas a um suspiro divino. Há angústia constante em Glass, mas Nyman prefere ver tudo como uma grande laboratório em aperfeiçoamento. Não há mágoas em Nyman. E ouvindo-o naqueles bancos de madeira tive a impressão de ter escutado algo a mais, lá do lado das cordas, atrás dos violinos. Mas devem ter sido apenas os fagotes ao fundo.
Um pouquinho de Nyman, aqui.
posted by
The guy behind a screen
@
10:29 AM
|
[ 200206652 ]

Liga pra mim, vai!
Fulano entra em desespero tentando encontrar sicrano. Sicrano quer ser encontrado e também encontrar fulano, mas só consegue correr de lá pra cá, abrindo e fechando portas, saindo e entrando de bares e restaurantes. Ambos tentam ligar nas casas respectivas. Ninguém, porém, se comunica, nem uma vez, através do telefone celular. Por quê? Hollywood ignora solenemente o celular, a não ser que ele seja co-ator, como em Matrix. O celular, se inserido na história, atrapalharia a trama hollywoodiana, que perderia a graça e seria resolvida com um simples telefonema. James Stewart que o diga. Se do alto de sua Janela Indiscreta tivesse de posse de seu Nokia, o filme acabaria na primeira cena. Às vezes a tecnologia cria novos problemas e é mais fácil simplesmente ignorá-la, como se fosse parte de um futuro distante. Alo Miramax, acorda e atende!
posted by
The guy behind a screen
@
11:16 AM
|
[ 200202352 ]

É de Chocolate
Tenho uma pergunta. Alguém aí sabe aonde foi criado o Haagen-Dazs? Falou Áustria? Errado. Ah, Alemanha? Errou de novo. Ah, nome esquisitinho assim, bom, então Hungria? No, no, no. O Haagen-Dazs, meus caros, foi inventado pelo Sr. Reuben Mattus, na década de 20, aqui mesmo, nos EUA. Sabe onde? Não, você não acertaria nem que fizesse aposta entre a família nos intervalos da novela. O Haagen-Dazs tem pele escura. Nasceu e cresceu no Bronx. Um legítimo novaiorquino. Depois disso, penduro as chuteiras. Estou chocado e desiludido com essa informação. É muita competência! E pensar que Saddan achou que podia com esses caras...
posted by
The guy behind a screen
@
11:07 PM
|
|
|
Wednesday, April 23, 2003
|
[ 200191665 ]
Lloyd Cole é commotion
Logo logo volto pro Brasil. Vou abandonar Nova York de vez e retornar à São Paulo. Enquanto isso não ocorre e a primavera se inicia, vou vivendo essa cidade, como a Corte Portuguesa às vésperas de Napoleão invadir Lisboa: vou pilhando tudo que posso. Foi com esse espírito que, essa noite, saí da ginástica lá no lado oeste de Manhattan e fui caminhando pro lado oposto, que a lógica e também a convenção diz ser o leste, em busca de entretenimento. Pelo caminho, olhava vez ou outro o relógio, mas passava maior tempo filmando com os olhos as casas, esses prediozinhos baixos em tom avermelhado, com suas escadas de incêndio em metal negro expostas esculturamente do lado de fora. Fazia aquele friozinho de rabo de inverno, que não causa frio, só traz melancolia.
Logo logo cheguei ao local. Estacionei o meu corpo direto dentro do Joe´s Pub, sem pagar manobrista ou guardador noturno, nesta vida sem carro novaiorquina. Fui lá, no tal do Pub, pra ver um dos ídolos da minha juventude cantar. Nunca fui muito de shows pop. Sempre me pareceu um evento mais pra sacanagem que fazíamos antes e depois do show do que o próprio show em si, que me soava quase inalcançável, perdido num palco lá distante, atrás do gol, colado na arquibancada. Mas quando você vai num espaço do tamanho daquelas garagens das casas paulistanas no Morumbi, daquelas com quatro carros e uma moto, e um cara toca pra você, a 1,5 metro de distância, a coisa fica bacana.
A garçonete trouxe o pedido: um panino de focaccia quentinho, cortado em cubinhos e recheado com prociuto e brie. Não esqueceu do vinho tinto e também da notinha, que costuma vir na decoração. E então, Lloyd Cole entrou no palco. Já não é mais o rapaz de outrora. É um senhor agora, de cabelos grisalhos e quilos a mais que a vida acomodada cuidou de esculpir. Mas continua a voz mais aveludada do pop, sendo o mais melodioso dos melódicos e o mais carismático dos charmosos.
Tocou por 1 hora. Fez brincadeiras, tomou whisky. Parecia que teria algumas horas à sua disposição. Vez ou outra respondia comentários, como se estivesse na sala de jogos de uma residência. No final, fez um biz, depois de muitos pedidos, e se retirou em tom carinhoso mas comedido.
Lloyd Cole era Lloyd Cole and Commotions quando eu fantasiava com o mundo em noites silenciosas em Piracicaba. Hoje, é só Lloyd Cole. E eu também já não sonho mais com o mundo. Mas assim, sozinho, com meu copo de vinho de companhia, Nova York, minha querida novaiorque, me fez lembrar de tantas noites na minha distante Piracicaba. Lloyd Cole envelheceu. Mas quase nada mudou. Todos nós fomos com ele.
posted by
The guy behind a screen
@
9:51 PM
|
[ 200183229 ]

Cohibas de mi Vida
Diz a lenda urbana que certa vez, numa data qualquer aí do passado, o Canal da Mancha fechou para o tráfego de navios que faz o vai-e-vem Europa-Grã Bretanha. O motivo era o fog que foi crescendo durante o dia e chegou ao ápice no ínício da noite. O Times de Londres, e aí entra propriamente a suposta lenda, teria estampado na manhã seguinte: “Canal da Mancha fechado. O continente está isolado”.
É famoso e conhecido o esnobismo britânico e a idéia que necessariamente o acompanha, ou seja, a de se sentirem, eles, os ingleses, o centro do universo. Mas essa não é uma prerrogativa inglesa. Acontece com qualquer um que esteja por cima. E os EUA, o centro do universo da vez, não poderia fugir à regra. Mas às vezes é possível sentir, daqui, o paradoxal sentimento de se estar no centro da Terra e distante do mundo. Nova York, por mais cosmopolita que seja, continua sendo uma cidade americana. É a menos americana de todas as cidades, a mais dedetizada e vacinada contra a cultura americana, mas, ainda assim, é americana. Daí decorrem muitas coisas e uma delas é a de que se você quiser saber de um assunto que não tenha relação direta com os gringos, que não afete o bolso ou a moral protestante deles, é preciso ler os jornais estrangeiros, qualquer um deles. Não falo da notícia, obviamente, pois esta é coberta até nos confins do Arkansas. Falo do impacto e significado da notícia.
Por exemplo. No vôo da volta do Brasil pra cá ontem à noite, descobri esse incidente todo com os fuzilados do Fidel Castro. Na verdade, o incidente em si eu já tinha conhecimento. Saiu em todo lugar. O que não sabia ainda, e isso sim que nunca estaria estampado por aqui, é que Saramago, o Deus português do barroco moderno, deu uma declaração simbólica, bombástica e emocionada, sobre sua perda de fé no regime cubano. Fico contente, exultante mesmo, em saber que Saramago, o José, finalmente atingiu a maioridade política e descobriu que Cuba é um regime ditatorial. Saramago, porém, tem desculpas. Tudo parece maturar lentamente com o prêmio Nobel. Certa vez li uma entrevista em que Saramago declarou que começou a escrever muito tarde na vida, depois dos 40. O portuga, como os vinhos do Porto e o Queijo da Serra, decididamente, só melhora com o tempo.
Minha esperança agora é que Saramago tenha sido acometido por uma espécie de vírus ao estilo SARS e que em suas palestras pelo mundo o gajo contagie a todos do alto de seu palestrar. E seu espirro de consciência ataque com precisão balística intelectuais da língua portuguesa. Fico imaginando as saborosas consequências. Chico Buarque, acometido pela doença, entraria então em estado de transe criativo e lançaria nova canção, cheia de metáforas e eufismos, agora contra o regime cubano. Nada seria mencionado no NY Times, que ignoraria solenemente a importância do fato. Mas a canção faria estréia triunfante, domingo à noite, no Fantástico. Teria até nome pronto: “Os Cohibas que não fumei”. O cheiro do charuto apagado seria sentido em todo mercosul, em choro raivoso da esquerda sul-americana. Os EUA aparentemente não ouviriam nada, dando de ombros para o fato. Mas tudo estaria anotado no caderninho. No ano seguinte, com passagem de primeira classe, Chico seria chamado à América. O motivo? Ir buscar o seu Grammy para melhor canção sul-americana.
posted by
The guy behind a screen
@
11:06 AM
|
|
|
Wednesday, April 09, 2003
|
[ 200125097 ]
Zapping
Alguém de vocês se lembra quando tínhamos que levantar da poltrona pra mudar o canal de TV? Quando cada salto da Globo pro SBT significava também um salto da cadeira? Quando a mudança de um programa pra outro exigia não somente um movimento mecânico dos dedos, mas um exercício de comprometimento e negação simultânea com os canais da TV?
Pois tudo mudou com o controle remoto. Não, não foi só a TV, nossa vida mudou.
Me pego horas a fio numa compulsiva repetição de botões, com olhos estalados de desatenção. Passo por tudo. Não vejo nada. Vivemos trancafiados numa infinidade de opções. Tudo culpa do controle remoto. Um dia o estudarão e dirão que ele foi o começo do fim. Pois o controle remoto não só permitiu a comodidade. Ele instaurou o descompromisso. Havia no pular da cadeira o ato do homem decidido. O homem ACC (antes do controle remoto) era um homem mais pleno do que o homem PCC (pós controle remoto). Não era comum, entre o ACC, a angústia que o gatilho da liberdade remota traz consigo. Tínhamos o bom e o mal, os comunistas e os não-comunistas, as ideologias e seus compartimentos estanques. E éramos escravos de nossas poltronas e de nossa inércia. Mas uma mudança implicava decisão pensada, desejo refletido. Mudávamos da Globo pro SBT. Passávamos da Record pra Bandeirantes. E tudo levava tempo e engajamento.
E então veio o controle remoto, e o muro de Berlin em nosso entretenimento se desmoronou. Agora podemos transpor fronteiras sem escalar obstáculos. Não é mais preciso compromisso de escolhas. E os laços de fidelidade também diminiuram. Nossa ansiedade então atingiu as alturas no zapear da TV. O esforço agora é inverso. Só muita maturidade te deixa mais de um minuto num mesmo canal, atento ao mesmo programa. O que também explica porque os homens, mais que as mulheres, zapeiam sem fim nos canais da TV. Estamos todos perdidos, procurando o cálice sagrado em meio a uma infinidade de escolhas. É a ansiedade e angústia, ali, ao alcance dos nossos dedos.
A lei áurea do controle remoto nos condenou à descompromissada liberdade de escolhas, jogando-nos na sarjeta dessa vida abertamente democrática. Tudo a disposição imediata. O controle remoto trouxe a comodidade. Mas o preço foi o descomprometimento. Com a dinastia do controle remoto a avenida então estava pronta pros canais a cabo e as TVs 24 horas. A notícia se agilizou, mas entramos na raia do fungível. E a zapearmos e sermos zapeados. “Zapeamos” a TV, mas também a internet, zapeamos pelas vitrines e pelos relacionamentos. Zapeamos ao comer desatentos. Zapeamos pelos nossos celulares e pelas nossas amizades.
Há quem veja nisso uma bobagem, uma estupidez anti-tecnólogica. Pessoalmente acho que o controle remoto continua o marco civilizatório. Nem mesmo Bush conseguirá trazer de volta a simplicidade, o nosso curto leque de escolhas entre o certo e o errado. Estamos todos condenados a angústia da informação no atacado.
posted by
The guy behind a screen
@
11:15 PM
|
[ 200106719 ]
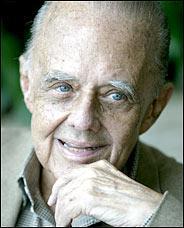
Yes, nós temos Haagen Dazs
Uma onda de preguiça e falta de criatividade me invadiu nos últimos dias e desapareci desse blog. Acho que é a ressaca da guerra. No Direito, nas operações de “Fusões e Aquisições”, que tem o nome chique de “M & A” (mergers & acquisitions), é o chamado pós-closing, ou seja, aqueles dias que se seguem ao dia de fechamento da operação de compra de uma empresa. O sujeito sente um certo torpor pelo serviço cumprido e dá uma relaxada total e fica só brincando na internet. Se quiserem o paralelo sexual, também serve e é ainda mais ilustrativo. A verdade, porém, é que depois de tanta energia desperdiçada em discussão sobre essa guerra, parece que houve um desencanto geral. Ninguém quer fazer mais nada ou falar sobre nada. Só ficar bestamente mudando de canal a esmo e tomando Haagen Dazs de doce de leite na cama. Mais nada.
Guinle, the man
O New York Times, dia sim dia não, sai lá com uma notícia sobre o Brasil. Ontem, tascou um portrait de Jorginho Guinle. Não contei, mas o número de ícones citados por Guinle e pelo jornalista como sendo parte da esfera de amizade de Guinle parece ter saído de uma enciclopédia com o título “As Mais Importantes Pessoas do Séc. XX”. Ninguém escapou ao charme de Guinle. E ele foi o maior e talvez único playboy brasileiro. Viveu, como todos playboys vivem, numa vida desregrada de prazeres. Mas eram outros tempos e desregramento na época era somente o número de garrafas de champagne. Quebrou, claro. Não fazia mais nada na vida a não ser cortejar mulheres e homens-lenda. Era um dândi que nunca mais se verá, porque não se forja mais um tipo desse em nossa época, nem há mais tanta gente importante pra ser paparicada. Hoje, só existem famosos, um conceito que espelha bem a nossa época. E Guinle, numa inversão da lei evolucionária, foi substituído por João Paulo Diniz, Luciano Huck e outros fanfarrões que usam colar de couro no pescoço. Guinle cortejava mulheres e cantava-lhes melodias no ouvido. Hoje, há CDs com som digital dentro dos carros blindados. E também não é necessário dizer mais nada.
posted by
The guy behind a screen
@
8:28 PM
|
|
|
Wednesday, April 02, 2003
|
[ 200088339 ]

Ajustando o Compasso
Em 1976, dois anos antes da Copa de 78 na Argentina, o São Paulo Futebol Clube comprou um jogador pra resolver seus problemas no ataque. Contratado junto ao Penãrol do Uruguai, esse jogador prometia ser o novo Pedro Rocha. Pra desespero da diretoria e revolta da torcida, o tal jogador não fazia nenhum gol lá na frente. Até que Rubens Minelli, acho que foi ele, resolveu colocá-lo na zaga, lá atras na defesa. Daí pra frente o que se viu, por mais de uma década, foi um dos maiores zagueiros que os gramados brasileiros presenciaram. Arriscaria dizer que um dos maiores do mundo. Para quem não conhece, esse sujeito era Dario Alfonso Pereira, ou simplesmente, Dario Pereira. Mais tarde, já aposentado, resolveu ser treinador, mas seu talento nesta posição era como quando quis ser centroavante. Infelizmente.
Casos como esse ocorrem aos montes. A toda hora, em todo lugar. Talentos enormes são desperdiçados ou passam anos no casulo, em promessa jamais cumprida, por simplesmente não serem alocados na posição certa. Talvez noventa por cento dos problemas do mundo estariam resolvidos se cada um de nós pudesse saber ao certo pra onde nosso coração e nosso talento pendem na balança. Penso nisso e me vem a imagem de Bush, o filho, em longas e intermináveis cavalgadas nas planícies do Texas. Depois, voltando pra casa, ao final da tarde, legitimamente cansado, é presenteado na varanda por uma boa cerveja gelada trazida por Laura. Em movimentos lentos e decididos, esticaria suas pernas curtas, ajustando a cadeira no terraço para que tudo ficasse em harmonia e os pés exautos apoiassem no parapeito de madeira. De mãos dadas com a esposa, em discreto balançar, diria, suspirando, após o primeiro e dedicado gole: “What a day today honey...”
posted by
The guy behind a screen
@
4:15 PM
|
|
 |
|
 |
 |

